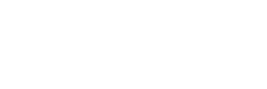PRESSKIT DIGITAL
UM HERÓI QUE MUDOU SEM MUDAR
por Paulo Terron (*)
Atenção: o texto abaixo não pode ser publicado na íntegra, é somente para consulta
Logo após se sentar, pronto para repassar a história de sua vida, Jards Macalé arranca a camisa, quase estourando os botões, e revela o símbolo do Super-Homem estampado na camiseta antes oculta. Não é o símbolo clássico, mas sim o sangrento, que representa um dos arcos dramáticos mais intensos do kryptoniano – o de sua morte e ressurreição. A camiseta e a maneira um tanto teatral como ela foi revelada dão uma ideia do gosto que o artista tem pelo universo dos super-heróis. Mas Jards, parece, não está nem aí para aquela história de salvar o mundo. “Eu cheguei à conclusão de que o mundo não é saudável e não é para ser salvo. O mundo que se foda!”, ele diz, na sua tradicional forma de ir na direção contrária à que se espera dele, e sempre deixando uma dúvida: ele está falando sério mesmo?
Para entender a origem desse desbocado – e contraditório? – herói, é preciso voltar para o dia 3 de março de 1943, quando ele nasceu, durante o Carnaval. Jards Anet da Silva – Macalé foi um apelido que ele ganhou anos mais tarde, devido a um jogador de futebol do Botafogo – cresceu na rua Pucuruí, na Tijuca, Rio de Janeiro. Em casa, convivia com duas apaixonadas por música: a mãe, Lygia Anet da Silva, e a avó, Hilda, eram fascinadas pelos cantores do rádio. O pai até que se arriscava eventualmente no acordeão, “mas ele gostava de música erudita, achava música popular uma bobagem”, Jards relembra. “Meu pai tinha ciúmes da minha mãe porque ela adorava o Orlando Silva. E então ele só botava aqueles cantores eruditos e tal.” O que não adiantou muito para alterar o cotidiano musical do lar, até porque os vizinhos da família eram legítimos representantes da cultura popular nacional. “Nossa casa era colada à da [cantora e cineasta] Gilda de Abreu e do [cantor] Vicente Celestino. Nasci ouvindo os exercícios vocais deles.”
Em todo caso, Jards não hesita ao dizer que sua maior influência musical foi mesmo a sua mãe. “Foi ela que me encucou”, conta. “Mas enquanto meu pai estava vivo eu não podia exercer [o lado musical], ele queria que eu estudasse.” Quando Jards tinha uns cinco anos, o pai lhe perguntou o que gostaria de ser quando crescesse. Um militar, como ele? Talvez um arquiteto? Ou um homem de negócios? O menino foi direto na resposta: queria ser padre. “Dizer isso para um pai militar, que o cara quer ser padre...”, recorda o artista, para em seguida reforçar que sim, de certa forma cumpriu esse objetivo. “Num certo sentido eu sou um padre, sabe? Eu tenho uma religião, a música, e sou um pregador. Mas meu pai não entendeu isso na época. Nem ele, nem eu.”
Com o acervo literário do pai, por sua vez, Jards estabeleceu uma relação carnal. “Eu tinha uns sete, oito anos e, procurando na biblioteca dele alguma sugestão sexual, encontrei A Moreninha, do Macedão, do [Joaquim Manuel de] Macedo.” Na cabeça do garoto, aquele título só podia indicar uma coisa. “Só pode ser sacanagem”, pensou. Começou a ler, achou “chato pra caralho”, mas descobriu uma surpresa guardada no meio do volume. “Lá pelas tantas tinha um papel dobrado. Aí eu abri. Estava escrito no cabeçalho: ‘Por Causa Desta Cabocla’, o título da música do Ary Barroso. E o pequeno Jards leu os versos: “À tarde/Quando de volta da serra/Com os pés sujinhos de terra/Vejo a cabocla passar/As flores vêm pra beira do caminho/Pra ver aquele jeitinho/Que ela tem de caminhar/E quando ela na rede adormece/O seio moreno esquece/De na camisa ocultar”. “Minha primeira punheta”, revela.
O salto do consumo para a execução – não sexual – da música veio com outra ajuda da vizinhança, anos mais tarde, quando uma amiga de Jards começou a estudar violão. Ele a espiava tendo aulas pela fresta da porta da cozinha e, depois, pedia o instrumento emprestado e tentava reproduzir o que havia observado – o que não deixava de ser uma forma voyeurismo. “Violão é punheta também”, decreta. “Instrumento musical não passa de uma grande punheta. É o prazer, né?”
De certa forma, o pai de Jards Macalé contribuiu para a formação do caráter transgressor do filho. Oficial da Marinha, o pernambucano Jards Gomes da Silva havia entrado na Escola de Marinheiros de Sergipe aos 15 anos. E o ambiente militar fez parte da criação do futuro músico antes mesmo de ele começar a frequentar o colégio da corporação. “Ele me levava pra passear no submarino. Não era pra qualquer garoto, não! Garoto de cinco, seis anos... Isso é especial”, conta. “Quando o submarino submergia na Baía de Guanabara, um marinheiro ficava me segurando – porque eu não alcançava o periscópio – para que eu pudesse olhar o Rio de Janeiro.”
A convivência com o pai não durou muito: aos 48 anos, quando o filho tinha por volta de 15, o então Capitão de Fragata Jards morreu vítima de leucemia. E, como a pensão que recebia da Marinha não era o bastante para criar os dois filhos – Jards e seu irmão caçula, Roberto –, dona Lygia teve de colocar o primogênito no Colégio Militar do Rio de Janeiro. “Eu fiquei no internato, por ser mais velho e dar mais trabalho, e meu irmão ficou no externato.”
Internato, claro, em tese: para Jards e a turma dele, que tinha gente como os futuros atores e humoristas Castrinho e Agildo Ribeiro, escapar daquele ambiente restritivo era algo corriqueiro. Durante as noites, usando arbustos como camuflagem, eles fugiam pelo Morro da Babilônia – que ficava atrás do refeitório do colégio – e caíam na praça Sáenz Peña para confraternizar com os amigos, tocar violão, namorar as normalistas, ir ao cinema – Confidências à Meia-Noite, filme de 1959 com Rock Hudson e Doris Day, era então “o máximo do erotismo”, segundo Jards.
Dentro da escola, porém, o clima era bem menos agradável – “a gente marchava pra caramba, até pra mijar, pra ir ao banheiro”, lembra –, e qualquer resquício de indisciplina era repreendido. Mas Jards era CDF em indisciplina. E, depois de repreender o garoto por cerca de dois anos, a diretoria do colégio resolveu convocar sua mãe.
Ao ver dona Lygia chorando na sala do capitão da companhia – José de Ribamar Zamith, que depois integraria a lista de torturadores da ditadura militar no Brasil –, o rapaz não se aguentou e desafiou o oficial para uma briga. Por ambos estarem fardados, o capitão Zamith rejeitou a provocação. Mas o jovem Jards insistiu: tirou a farda e – mesmo sem contar com a camiseta do Super-Homem – o atacou. Outras pessoas intervieram e o brigão acabou sendo jubilado da escola. “Saí do colégio militar, peguei o violão e fui imediatamente para Ipanema. Me tornei amigo do Dori Caymmi e comecei. É aí que começa essa história.”
“Essa história” começa um pouco antes, na verdade. A família de Jards Macalé tinha se mudado da Tijuca para Ipanema – mais exatamente para a rua Visconde de Pirajá – no fim dos anos 1950. No mesmo quarteirão morava Chico Araújo, com quem Jards formou o grupo Dois no Balanço – o numeral do nome ia crescendo conforme a banda ganhava novos integrantes. “Um dia o Chiquinho me levou à casa dele. Ninguém sabia que ele era filho do Severino Araújo. A mãe dele abriu a porta e, no sofá, Severino Araújo estava confortavelmente sentado, fazendo exercícios com seu clarinete. Só que esses exercícios já eram música para os meus ouvidos.”
O maestro Severino Araújo era a figura central da lendária Orquestra Tabajara, surgida na Rádio Tabajara, de João Pessoa, Paraíba, e mais tarde contratada pelas rádios Tupi, Mayrink Veiga e Nacional. O contato rendeu a Jards um posto de copista na orquestra, e o maestro – ao lhe apresentar o jazz de vanguarda de Stan Kenton, com o álbum City of Glass – também foi o responsável por mostrar ao jovem um novo caminho musical. “Aquilo abriu meu ouvido e me fez entender o que é a música. Música é som, som é música. Silêncio... Nunca houve tanto barulho no silêncio. O silêncio não existe, segundo John Cage.”
O trabalho de copista na Orquestra Tabajara gerava dinheiro suficiente para que Jards investisse em outro assunto predileto dele, os quadrinhos. “Cada cópia era não sei quanto, 10 centavos”, relembra. “Pô, dava pra comprar gibi pra caralho! Quanto mais compasso tivesse, mais rico você ficava. E o Severino tinha muitos compassos, escrevia um bonde de compasso praquela orquestra.”
Quando apareceu a oportunidade de trabalhar como copista para a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Jards se deu conta de que precisaria se dedicar mais, estudar. Com um sentimento de “não é só ouvir, eu tenho que aprender essa porra”, matriculou-se na Pro-Arte, em Laranjeiras, onde teve aulas de orquestração com o compositor, arranjador e pesquisador César Guerra-Peixe e de análise musical com a pianista e compositora Esther Scliar. “O Guerra-Peixe era engraçado. Ele tinha uma barriga enorme, era baixinho e fumava um cigarro atrás do outro, durante as aulas a barriga dele ia ficando cheia de cinzas e de giz. No final de uma magnífica aula ele dizia: ‘Isso não quer dizer nada. Portanto, vamos passear, vamos namorar, vamos o caralho, porque isso não quer dizer nada’. E ia embora.”
A mudança para Ipanema proporcionou o nascimento de outra amizade marcante: com Dori Caymmi. Antes mesmo de começar a estudar com Guerra-Peixe, Jards aprimorou sua técnica no violão com o filho de Dorival Caymmi e com o músico e pioneiro da bossa nova Normando Santos. A ponte entre eles foi feita pelo escritor e compositor Nelson Motta – “o primeiro cara que me mostrou um acorde dissonante, ou ‘atonante’, seja lá o que for, aquela coisa de bossa nova”.
Nos tempos da Tijuca, Jards Macalé conheceu pessoas que viriam a ser bastante importantes em sua história – em especial Torquato Neto e Caetano Veloso. Com o segundo ele cogitou até se mudar para a Bahia, onde poderia estudar com o musicólogo Hans-Joachim Koellreutter, fundador da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. “Cheguei a preparar meus panos de bunda”, ele explica. “Mas me deu um medo horroroso de sair da casa da minha mãe. E eu disse ‘não, vou ficar por aqui mesmo’.” Jards ficou – e a decisão deu abertura para que uma parte importantíssima da música brasileira começasse a se desenvolver.
“A Nara Leão estava há muito tempo no [espetáculo musical] Opinião e, passando por Salvador, ela ouviu Maria Bethânia cantando. Ficou fascinada”, diz Jards. Não haveria alguém mais indicada para substituí-la no show. E em 1965, então, Bethânia foi para o Rio de Janeiro para trabalhar com João do Vale e Zé Kéti naquela mistura de teatro social e apresentação musical, que tinha texto de Paulo Pontes, Armando Costa e Oduvaldo Vianna Filho e direção musical de Dori Caymmi – Jards assumiria o violão mais ou menos na mesma época.
Em uma conversa de bar em Copacabana surgiu a questão: mas onde a Bethânia vai se hospedar no Rio? “Aí eu disse: ‘olha, minha avó está viajando, vai demorar um ano e tanto, está viajando pelo mundo. Vou perguntar à minha mãe se ela cede o quarto que está vago’”. Funcionou. Com Bethânia, acabou indo também Gal Costa. E aí Caetano e mais uma série de amigos, como o poeta José Carlos Capinan e o multiartista Rogério Duarte, começaram a frequentar o lugar. “Todo mundo estava lá, num cubículo, quarto de empregada, onde tinha um armário, uma cama beliche e uma mesinha de cabeceira. O que entrava de gente naquele quarto... Parecia uma noite na ópera.”
Dona Lygia praticamente adotou o grupo, apesar de não entender direito o que estava acontecendo. “Que coisa estranha, está tudo isso lá dentro?”, costumava perguntar ao filho. Ainda assim, alimentava os convidados, passava as roupas deles e até os transportava para as apresentações, às quais fazia questão de assistir. “Minha mãe não era muito de sair à noite, mas levava. E ia, batia palma, entusiasmada, como batia palma para a Rádio Nacional.”
Aquele foco de artistas acabou virando uma espécie de embrião do Tropicalismo, um dos movimentos artísticos mais importantes e abrangentes do Brasil. Mas Jards faz questão de reforçar que, embora o debate possa ter se iniciado naquela época, as raízes do negócio são mais profundas. “Tudo nasceu quando Rogério Duarte apresentou Glauber Rocha a Hélio Oiticica – que tinha uma obra, de 1958, chamada Tropicália. Não estou tirando a importância de Caetano e Gil, nem nada, mas vamos botar a coisa nos eixos”, esclarece, afirmando que o Tropicalismo de fato nasceu da aliança entre a Tropicália de Hélio Oiticica e o “tropicalismo de imagem” de Glauber Rocha. “Pegaram a palavra ‘tropicália’ daquele trabalho do Hélio”, diz, enfático.
Por meio de Oiticica, Jards conheceu a artista plástica Lygia Clark, outra grande influência em sua carreira – e em sua vida. Filho de uma Lygia, Jards acabou sendo “adotado” por outra. “Ela se tornou a minha mãe estética.” Certa vez, durante um espetáculo de Tom Jobim no Canecão, no Rio, a história de amor por ambas as figuras maternas ganhou um momento especial. “Levei as duas, minha mãe Lygia e minha mãe estética Lygia. Antes do show, fui lá atrás pra falar umas besteiras, conversar. Aí me arrumaram uma mesa central, um pouco afastada do palco, e eu me sentei entre as duas. Tom Jobim, meu amigo, mas muito do sacana, começou a apresentação. E lá pelas tantas, quando ficou sozinho ao piano, ele disse: ‘Essa’, com aquela voz, ‘essa é para as Ligias.’” Assim que o maestro tocou os primeiros acordes de “Ligia”, Jards não resistiu e caiu no choro. “E as duas Lygias me consolando... Foi um momento histórico pra mim, maravilhoso, mas sentimental demais. Depois vi que, porra, eu poderia não ter chorado tanto e jogado uma pedra no Tom Jobim e no piano pra ele não me sacanear assim! Não estava combinado, pô.”
Mais tarde, em 1974, Jards dedicaria o disco Aprender a Nadar a Lygia Clark e Hélio Oiticica.
“Tropicalismo é um detalhe”, diz Jards Macalé, hoje, sobre a sua relação com o movimento – não desdenhando, mas como alguém que vê aquela corrente artística como um ponto dentro de uma trajetória mais ampla. “Já me interessou mais. Atualmente não me interessa nada.” O Tropicalismo já tinha sofrido um golpe violento – e talvez fatal – quando, em dezembro de 1969, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos pelo governo militar por “tentativa de quebra do direito e da ordem constitucional”. Ambos decidiram se exilar em Londres.
No Brasil, ainda em 1969, Jards sentiu a incompreensão da plateia do IV Festival Internacional da Canção ao defender uma obra dele e de Capinan, “Gotham City”. Com arranjo de Rogério Duprat, o trabalho criticava a situação política brasileira pós-AI-5. “O Capinan escreveu uma metáfora do momento que estávamos vivendo, da censura. Um morcego na porta principal, um abismo na porta principal, não se fala mais de amor...” Apesar do nome da música, e de outras referências ao universo do “homem morcego”, Jards não usou a roupa do Batman durante a apresentação. “Foi uma túnica que Cidinho, um artista plástico da Bahia, fez”, conta ele, “uma roupa de couro com umas chamas saindo.” As guitarras estridentes d’Os Brazões colaboraram com o clima caótico da faixa e o público não hesitou ao vaiar a apresentação – e torná-la histórica.
Com Capinan, Paulinho da Viola e Gal Costa, então, o músico seguiu em frente e criou a empresa Tropicarte. A agência fora pensada para administrar os espetáculos dos seus fundadores, mas Gal era “a única que ganhava grana”, diz Jards. “O Paulinho da Viola não aguentou muito, não, saiu logo porque viu que aquilo era maluquice.” Jards e Capinan, em todo caso, continuaram produzindo os shows de Gal – que também gravou composições da dupla, como “Pulsars e Quasars”, presente no disco Gal, de 1969. “É um sub-blue, uma supercanção de amor gravada num disco voador de tampa de panela, um disco voador daqueles que só existem na revista O Cruzeiro”, definiu Caetano em texto para O Pasquim.
Mas o auge da parceria veio com a turnê Fatal, dirigida pelo poeta Waly Salomão e registrada no álbum ao vivo Fa-Tal – Gal a Todo Vapor, de 1971. É nele que está a versão da cantora para “Vapor Barato”, de Jards e Salomão, um clássico absoluto da música brasileira. Os shows foram lendários, com performances que eram ao mesmo tempo sedutoras e combativas – uma explosão de ideias coloridas dentro do sistema militar, que tentava impor o preto & branco. O lado financeiro? Menos marcante. “Nós quase levamos Gal à falência, isso sim.”
De Londres, Caetano Veloso se interessou pelo movimento que Jards Macalé fazia no Brasil. Ele defendia a apresentação de “Gotham City” – que chamou de revisão do “clima das apresentações tropicalistas” – e estava formando um grupo para, na Inglaterra, gravar as músicas que viriam a compor o álbum Transa, de 1972. Jards – “violonista de verdade”, segundo Caetano – foi convidado para se encarregar da direção musical do trabalho e desembarcou em um Reino Unido coberto de neve. “Tomamos um táxi e a primeira frase que ouvi em inglês foi do Caetano, que disse: ‘Down to the bottom’. Quer dizer, orientando o motorista, ‘é lá no fim da rua’. Fiquei fascinado.” Desde então Jards pensa em fazer uma música com esse título em inglês. Talvez até um rap.
Além de render um disco, a viagem à Europa criou uma rusga entre os dois artistas – uma vez que Transa, em sua edição original, não creditou os músicos envolvidos na produção do álbum. Caetano culpou o responsável pela arte da capa, mas a desavença continuou até a falha ser corrigida nas edições em CD do trabalho – e, anos mais tarde, durante os shows da turnê, no meio dos anos 2000, o baiano fez questão de dar nome à antiga banda.
Jards não sabe dizer exatamente por quanto tempo morou em Londres – “quase um ano, talvez um ano e um mês, ou oito meses, nove meses, dez meses, no máximo” –, mas antes mesmo de ir para lá ele já sabia o que o esperava na volta ao Rio de Janeiro: a gravação de um disco solo. “Foi uma das trocas que eu fiz com o [empresário] Guilherme Araújo: ‘vou, mas quando voltar, se voltar, gostaria que você produzisse um disco individual’. E ele aceitou.” Jards Macalé, o álbum, saiu ainda em 1972. Cada vez mais cultuado, o trabalho tem parcerias com José Carlos Capinan, Waly Salomão e Torquato Neto, além de faixas compostas por Gilberto Gil e Luiz Melodia. Em 2012, quando completou 40 anos, recebeu uma reedição em vinil.
O passo mais arriscado da carreira de Jards Macalé foi dado, segundo ele, com uma inocência completa. Em dezembro de 1973, o músico organizou um show chamado O Banquete dos Mendigos, que contou com a participação de Raul Seixas, Dominguinhos, Chico Buarque, Johnny Alf, Gal Costa e vários outros. A intenção era celebrar – em plena ditadura militar – os 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos com uma apresentação musical no Museu de Arte Moderna do Rio, em parceria com a Organização das Nações Unidas. Entre uma canção e outra, trechos do texto celebrado eram lidos para uma plateia de 4 mil pessoas, que aplaudia qualquer menção à liberdade. O artigo 5º – “Ninguém será submetido a tortura nem a punição ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes” – gerou uma explosão de gritos. “Peguei todo mundo de surpresa, a ditadura ficou sem saber o que fazer”, conta Jards. “Foi um xeque-mate naquele momento.”
Na saída do espetáculo houve policiamento reforçado, mas não conflito ou prisões. “A gente saiu cercado pela polícia, num grande corredor polonês. Não bateram, não fizeram nada.” O único refém foi o próprio show: gravado, ele daria origem a um álbum duplo, mas a censura barrou o lançamento do disco – que acabou ficando na gaveta por seis anos, até ser liberado em 1979.
Nesse meio tempo, Jards decidiu levar uma cópia do disco – e apresentar uma proposta de plano de cultura, que tinha o objetivo de “acabar com o colonialismo cultural no Brasil” – ao ministro Golbery do Couto e Silva, em Brasília. O então chefe da Casa Civil o recebeu graças à mediação de Heloisa Lustosa, filha de Pedro Aleixo – vice-presidente no governo de Artur da Costa e Silva (1967-1969). “Ela disse: ‘você tem algum problema em ir a Brasília e encontrar com o Golbery? Ele era muito amigo do meu pai, eles se admiravam. E, se é pra ser político, vamos usar político’. E lá fui eu, de braço quebrado, camisa do Flamengo, uma boina com uma estrela na frente, todo esculhambado. Fui recebido pelo Petrônio Portela, ministro da Justiça. Mostrei o disco, ele viu, tal e coisa. Eu estava com gesso, e falei pra ele: ‘Ministro, por favor, pode assinar no meu braço? Porque com a sua assinatura talvez eu não vá preso tão próximo quanto imagino’. Ele assinou, foi até a porta e me entregou na mão do Golbery.”
Foi o militar quem puxou assunto. “Seu pai foi da Marinha, né? Ajudante de ordens do ministro da Marinha na era de Juscelino [Kubitschek]?”, questionou. Jards respondeu que sim e, aproveitando o clima, sacou alguns poemas de T.S. Elliott que havia levado – “não sei por que levei esses poemas” – e, ao explicar o que era O Banque dos Mendigos, ouviu apenas um “eu sei” de Golbery. “Claro, né, ele já tinha sido chefe do SNI [Serviço Nacional de Informações, a agência de inteligência brasileira, extinta no governo de Fernando Henrique Cardoso]. Como é que não saberia?”, reflete o músico hoje. Jards fez uma dedicatória no disco e, como retribuição, o ministro lhe presenteou com outra, numa cópia do seu livro Geopolítica do Brasil: “Ao incrível Macalé, com um grande e cordial abraço do admirador Golbery”.
“Naquele momento, fui levar Banquete, Direitos Humanos, ONU para um cara que estava tentando fazer uma abertura – mesmo que ‘lenta, gradual e segura’. Era hora de abrir. Aí vem a esquerda: ‘pô, absurdo, o Macalé se entregou’.” Mas foram mais do que críticas ou desdém. Durante os anos seguintes, Jards se viu segregado dos companheiros de profissão – que interpretaram aquela viagem a Brasília como uma declaração de apoio aos militares – e das gravadoras – já que ele não as poupava de críticas. “Fiz os meus shows, vivo de show até hoje, não vivo de dinheiro público”, conta. “Cara, fui boicotado violentamente pela produção musical.”
O desentendimento que Jards Macalé teve com as gravadoras fez com que as duas décadas seguintes fossem de poucos registros em estúdio. Nos anos 1980, só lançou projetos que não tinham composições originais, como 4 Batutas & 1 Coringa, de 1987, e Ismael Silva – Peçam Bis, de 1988, gravado com Dalva Torres. Mas o músico não se arrepende de coisa alguma. “Eu aprendi a só dizer a verdade, nada mais que a verdade”, diz. “E meus sentimentos são verdadeiros.”
Em relação ao encontro com Golbery, ele ainda o vê como um ato político, mas não exatamente da forma como foi interpretado na época. “Minha ação foi direta. Aprendi isso com o avô de Hélio Oiticica, José Oiticica, lendo aquele livro maravilhoso, Ação Direta. Foi aí que aprendi a agir politicamente”, comenta, enfatizando que a sua visão política – ele se diz “anarquista, construtivista, libertário” – é a mesma até hoje.
Aliás, não só a sua visão política. Aos 71 anos, ele ainda escreve música do mesmo jeito, por exemplo. “A expectativa é a mesma. É [tudo] uma sequência, e não há ruptura nela”, conta. “Acho que não tem mudança. Quer dizer, o que muda são os seus olhos e ouvidos em relação àquilo que você tanto ouve e lê, a sua produção vai saindo de dentro desse mecanismo.”
Em suas primeiras aparições nos quadrinhos, na década de 1930, o Super-Homem não contava com todos os poderes que o caracterizam hoje em dia. Ele não tinha a força necessária para alterar o sentido da rotação da Terra – como fez no filme de 1978 – e nem voava – mas dava grandes saltos para se locomover. Das tiras de jornal para a televisão, da televisão para o cinema, o herói já vestiu diferentes uniformes, já foi vivido por diversos atores. Mas foi sempre o mesmo. E, como ele, que se transformou tanto ao longo dos anos, Jards Macalé é um herói que mudou sem mudar. Pode ser difícil de entender, mas ele jura que é a verdade. “Nada mais que a verdade”, como repete várias vezes durante a conversa.
Paulo Terron é jornalista. Foi editor da revista Rolling Stone Brasil entre 2009 e 2013 e já passou pelas redações do Último Segundo (do portal iG) e das revistas Capricho e Bizz. Apresentou o programa Qualquer Coisa, na Oi FM, e colaborou para publicações como GQ Brasil, Reuters, Folha de S.Paulo e Terra.

2014 - PRESSKIT DESENVOLVIDO PELA CONTEÚDO COMUNICAÇÃO